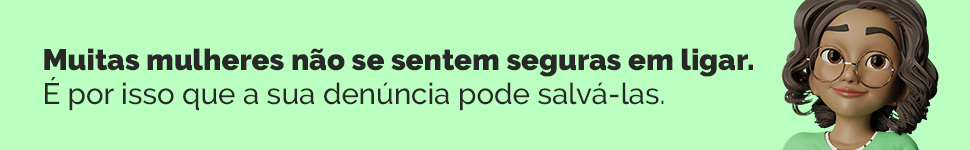A minha primeira viagem internacional foi para a Europa, em 2001, onde fiz um “mochilão” passando por dez países e dois principados. Era o tipo de loucura que só se faz quando jovem, quando tudo o que importa é seguir em frente, acumular histórias e fotografias mentais. Mas eu nem imaginava o impacto duradouro que essa aventura teria em minha “visão de mundo” — tanto que, dezessete anos depois, cá estou eu escrevendo sobre isto.
Os pontos turísticos certamente atraíram a minha atenção, mas eu não estava preparado para que outra coisa atraísse ainda mais: um cotidiano tão diferente e humanamente aceitável. De repente, coisas sobre as quais eu nem planejava refletir (caramba, eu estava de férias!) estavam estampadas na minha frente, demandando atenção de modo desesperado. E não adiantava fugir, pois a todo instante uma situação me atraía de volta e me levava a uma reflexão indesejada, mas pertinente. Depois de um tempo, parei de resistir e aceitei a incumbência como uma companheira insólita de viagem.
Longe de mim cair na vala comum e simplificar tudo em “melhor” ou “pior”, pois cada realidade tem o seu contexto intrínseco e negar isso é não enxergar o todo. Dito isto, o que me surpreendia não eram as situações complexas, mas sim as corriqueiras, observando algo que poderia estar acontecendo no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Por exemplo: os caixas eletrônicos ficavam expostos a céu aberto nas ruas, em paredes aleatórias, sem qualquer aparato especial de segurança e as pessoas simplesmente formavam filas para tirar o dinheiro, sem a presença de seguranças armados. Da minha parte, observava a situação como uma “realidade paralela”, algo do tipo “olha como é tirar dinheiro sem se preocupar com a segurança”, coisa que nunca havia experimentado no Brasil.
E logo se somaram tantas situações de “realidade paralela” que ficou claro o verdadeiro absurdo inominável que vivemos em nosso país. Porém, diferentemente de como pensam alguns, o que eu via na Europa não me dizia que ali era melhor e sim que era possível viver de outra maneira, de forma mais digna. Mas não só isso: percebi que estamos tão imersos, desde sempre, nessa situação infecta que sequer nos damos conta dela: do seu mau cheiro, da pestilência de seus efeitos devastadores sobre nosso povo e do quão inaceitável ela é.
Síndrome de vira-latas:
Quando retornei ao Brasil comentei com algumas pessoas as minhas impressões e reflexões, no que me surpreendi com a unicidade das respostas. Todas, independentemente da variação do conteúdo central, terminavam com a seguinte sentença: “mas lá é Europa, né?! Vai querer comparar?!”, como se naquele continente existissem outros tipos de seres que não humanos como nós. Era o início da segunda parte do meu aprendizado sobre as agruras brasileiras: a síndrome de vira-latas.
A ideia não-assumida dessa (absurda) teoria é, em resumo, a de que nós estamos mesmo destinados a viver na lama e os chamados “países de primeiro mundo” na bonança. Esta seria a “ordem natural das coisas”. E qualquer tentativa de propor outra realidade que não esta é encarada como se estivéssemos construindo uma utopia. Eis a síndrome de vira-latas escancarada sem disfarces.
O estranho mesmo, porém, foi ver o quanto esse conceito está entranhado em nós, debaixo de camadas de bravatas ufanistas, de “uh, sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor”, mas escondendo uma baixa autoestima nacional. Aliás, daria um ‘quiz’ interessante e que renderia muitos ‘likes’ nas redes sociais: “descubra aqui se você tem ‘síndrome de vira-latas’”. Mas, falando sério, o ponto central é: se você não visualiza o problema, também não luta contra ele, apenas o aceita, rotula como ‘normal’ e o incorpora. Eis aí o retrato de nosso país.
Em que momento passamos a acreditar ser normal ter uma taxa de homicídios 30 vezes maior do que a da Europa (fonte: Atlas da Violência 2018)? E porque tal estatística não nos fez levantar as ‘antenas’ do ‘já chega’? A verdade é que viver no Brasil se tornou uma ‘roleta russa’, onde as possibilidades de se morrer por coisas completamente evitáveis são enormes e frustrantes. Não há mais “horários de risco”, os latrocínios são a qualquer hora do dia; as balas perdidas sobrevoam as cabeças dos cidadãos, sorteando desafortunados; mosquitos portadores de doenças tropicais também nos rondam, tal como a séculos atrás, em versões futuristas de velhos problemas corriqueiros; e, para o grand finale, temos um sistema público de saúde decadente e falido esperando pelos desvalidos dessa guerra obscena e não declarada. Diante disso, segue-se a pergunta repetitiva: “porque nos achamos merecedores desta via crucis?”.

Velhos modelos para sonhos de sempre:
Independentemente de qualquer viés ideológica, ou posicionamento político, as últimas eleições trouxeram novas perguntas para esta reflexão. Diante da polarização abjeta que se viu, um “grito” estranho se sobressaia: o daqueles que clamavam pela volta da ditadura militar, advindo de setores da sociedade os mais diversos. Indo além do julgamento puro e simples acerca deste anseio, o questionamento que me vinha a cabeça era: “diante de tantos exemplos de governos que deram certo no mundo atual e iniciativas políticas que transpuseram barreiras ideológicas em prol do bem comum, porque cargas d’água estão clamando por um modelo de 40 anos atrás, que não deu certo?”.
Não seria mais lógico “copiar” as ações do governo da Irlanda, por exemplo, que em menos de 10 anos deixou de ser o “primo pobre” da Europa e se transformou no “Tigre Celta”, apenas investindo maciçamente na educação? Ou talvez poderíamos nos inspirar na Coréia do Sul, que saiu da miséria extrema também através do foco na educação e hoje é um dos melhores países para se viver do mundo; mas talvez nem precisássemos ir tão longe… pois temos o nosso vizinho, Chile, que a anos colhe uma fartura econômica e social duradoura, mas que sequer é citado pelos nossos analistas econômicos como um ‘case’. Porque o exemplo deles é menos digno de atenção do que o da ditadura? Vai entender.

Manutenção do absurdo e o vício em operações ‘tapa-buracos’:
Uma coisa que está peremptoriamente ausente dos discursos de campanha são as resoluções das principais agruras brasileiras. Por outro lado, sobram nestes as promessas de “melhoria”, “reforma”, “diminuição”, entre outros eufemismos para “não vamos resolver, iremos apenas deixar ‘menos ruim’”. E é assim, tratando problemas completamente solucionáveis como “doenças incuráveis”, que garantimos a manutenção dos males que assolam nosso país.
Um bom nordestino diria que falta “colhão” para assumir os problemas e se comprometer em resolvê-los; um burocrata chamaria de “falta de vontade política” e de “suicídio político”. Sim, pois estes últimos trabalham com a regra do “menor dano” e assim, caso as coisas não saiam como planejado, podem alegar que “fizeram o melhor possível” e empurrar estatísticas de “melhorias” em relação a gestão passada. Pura covardia e ausência de consciência cidadã.
A Alemanha e o Japão, ao fim da 2.ª Guerra Mundial, estavam completamente destruídos. Não que antes deste evento histórico estes dois países fossem grande coisa no cenário mundial, pois estavam longe disso, sendo mais conhecidos pelo obscurantismo econômico e a falta de abertura comercial internacional. Mas foi exatamente no cenário mais devastador possível, com um número incalculável de feridos e cidades devastadas, que ambos decidiram “resolver” as agruras sociais que os assolava desde sempre e mais ainda naquele momento pós-guerra. Os partidos políticos puseram de lado suas divergências ideológicas e costuraram um pacto social em prol não apenas da reconstrução de seus países, mas principalmente com a construção de um novo Japão e uma nova Alemanha. Focando em educação, saúde e infraestrutura, em pouco mais de uma década estes países não só se reergueram, mas atingiram crescimentos econômicos de até 10,5% ao ano (em 2018 o Brasil cresceu 1,83%, segundo o Banco Central…). O fim dessa história é visível em nossos dias, com a Alemanha e o Japão sendo sinônimos máximos de tecnologia, além de figurarem como duas das nações mais ricas do planeta.
O exemplo japonês e alemão nos diz muito, pois deixa claro que não é a falta de recursos, mas sim o de foco nas resoluções, o grande vilão brasileiro. Precisamos parar de falar em “melhorar” e mirarmos em “resolver” nossos problemas, tais como os da saúde, educação e segurança públicas, pois os exemplos dos países que assim o fizeram comprovam de que é possível. Esta, aliás, deveria ser a nossa meta de cobrança sobre a classe política, não aceitando nada menos do que a completa resolução desses problemas. Enquanto continuarmos acreditando no “conto do vigário” das “melhorias”, estaremos ancorados permanentemente a estes flagelos sociais inaceitáveis.

Coitadismo da República das Bananas:
Em 2018 o Brasil foi ranqueado como a 9.ª economia mais rica do mundo, a frente de países como Rússia, Suíça, Arábia Saudita, Austrália, Canadá e Espanha (Fonte: Fundo Monetário Internacional – FMI). Some-se a isso o fato de que nenhum dos 20 países citados neste ranking possuem, nem de longe, as riquezas naturais e plurais de nosso país. E assim, com apenas duas tacadas, cai por terra a falácia de que o Brasil é pobrezinho, coitadinho e mirrado frente aos “países de primeiro mundo”.
O coitadismo, porém, está entranhado em nosso modus vivendi desde sempre. Não que possamos debitar em uma só conta o dolo pelas agruras brasileiras, mas é dele a culpa pela nossa resignação e falta de resistência, aceitando “males curáveis” como se assim não o fossem. Lembra das respostas unas de que falei lá no começo do texto? “Mas lá é Europa, né?! Vai querer comparar?!”, pois é, o coitadismo é primo-irmão da síndrome de vira-latas. Estamos economicamente a frente da Suíça, Rússia, Austrália e Espanha, mas conseguimos achar desculpas para termos uma qualidade de vida muito inferior à desses países.
Enxergar a si mesmo, reconhecendo quem de fato somos, são prerrogativas sine qua non para nos erguermos como país. Não só temos o direito de termos uma condição minimamente digna de vida, mas também o de sonharmos pragmaticamente com muito além disso, pois nossas riquezas assim nos permitem. E proporcionar isto não é tarefa simplesmente dos gestores do país, mas primeiramente de uma população ciente de si, que com rédeas em mãos conduza seus políticos até a meta do bem comum.

Pé na porta e tapa na cara:
O texto pode ter sido longo, mas a mensagem é curta: “acorda Brasil! Toma teu lugar”, simples assim. Não se engane: ninguém irá nos abrir portas ou entregar qualidade de vida embrulhada em papel de seda… os messias políticos prometem, gritam e esperneiam, mas nenhum deles, seja de que viés política for, possuem a chave de nossos grilhões. Só se luta contra o que se vê… e antes de mais nada é preciso enxergarmos.
Não somos coitados. Se ainda somos um paiseco terceiro-mundista é porque não entendemos que cidadania é coisa para cidadãos e não para políticos. “Democracia representativa” é só uma terceirização burocrática de nossas prerrogativas, mas têm limites, não faz milagres e nem funciona com a ausência de seus representados (nós). Não é a toa que, nos países com melhor qualidade de vida no mundo, os políticos não têm salários (é um dever cívico), se reúnem nas casas uns dos outros ou em quadras escolares, não possuem privilégios ou mordomias, e não se tratam por “excelência”.
Parafraseando Mahatma Gandhi, que sejamos nós a mudança que queremos ver em nosso país. Reconheçamos nossa grandeza e nos dispamos deste coitadismo infecto, que nos nega de antemão a dignidade a que temos direito não apenas como brasileiros, mas principalmente como seres humanos. Que cresçamos de dentro para fora primeiramente e nos tornemos uma onda gigantesca, impossível de ser ignorada ou contida.
“São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade”
Chico Science